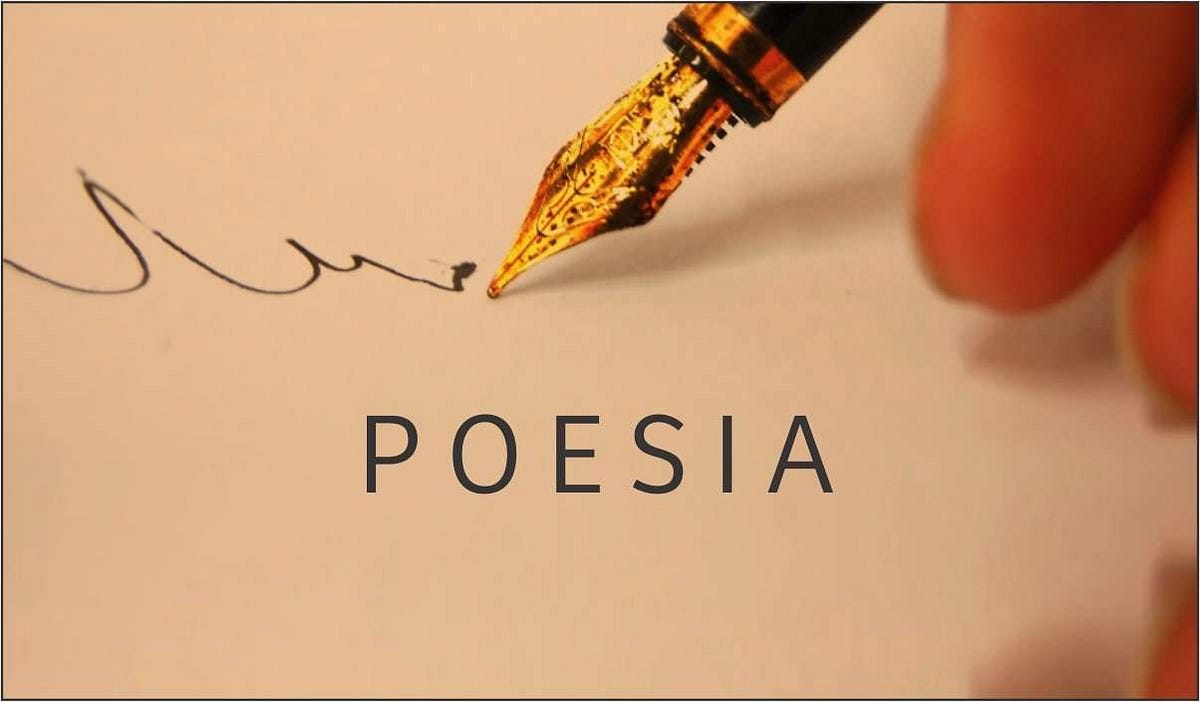Há tempos que algumas universidades têm divulgado as conhecidas listas de obras indicadas para o vestibular. Polêmicas à parte, se é ou não um jeito eficiente de fazer com que os estudantes estejam mais próximos das grandes obras, o objetivo maior é testar a competência leitora daqueles que pretendem ingressar nos cursos superiores, para o que devem, portanto, estar preparados para os desafios impostos pela análise e a interpretação das produções literárias inseridas em seus contextos de produção.
Se, nesse caso, os fins justificam os meios, não é questão que aqui se pretende debater; mas é fato que essa “obrigatoriedade” acaba por construir um movimento, inclusive editorial, que põe em cena não apenas os clássicos, como também autores contemporâneos e os que foram marginalizados, submetidos ao silêncio durante décadas, como é o caso de Carolina Maria de Jesus (1914-1977), cujo diário Quarto de despejo (1960) permitiu que a geração atual – e outras – voltassem a atenção para uma figura posta muito aquém de sua importância na história de nossas letras. Outro escritor que merece um olhar mais atento de pesquisadores, estudantes ou amantes da leitura é José Paulo Paes, de quem, abaixo, se transcreve um poema:
À televisão
Teu boletim meteorológico
me diz aqui e agora
se chove ou se faz sol.
Para que ir lá fora?
A comida suculenta
que pões à minha frente
como-a toda com os olhos.
Aposentei os dentes.
Nos dramalhões que encenas
há tamanho poder
de vida que eu próprio
nem me canso em viver.
Guerra, sexo, esporte
– me dás tudo, tudo.
Vou pregar minha porta:
já não preciso do mundo.
(PAES, José Paulo. À televisão. In: PAES, José Paulo. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p. 71).
O poema reproduzido foi publicado por José Paulo Paes (1926-1998) em Prosas seguidas de odes mínimas, de 1992. Nessa obra, é notória a maturidade artística do autor: Paes lança um olhar para as coisas cotidianas o qual ultrapassa a compreensão do senso comum para inscrever-se no campo da reflexão por meio de caprichada matéria linguística que se edifica a partir de um vocabulário desprovido de preciosismos, mas povoado de construções irônicas, o que também contribui para afirmar seu domínio sobre o processo de elaboração estética.
Note-se que o eu lírico dirige-se ao seu interlocutor utilizando a 2ª pessoa (“teu”); assim, legitima a personificação, pois trata o objeto que dá título à poesia como entidade de dimensão humana. Possivelmente haja um propósito no que poderíamos considerar apenas resultado do livre arbítrio criativo de que goza a literatura. De maneira que, elevando o objeto a outra natureza, ocorre, no mínimo, a intenção de igualar a TV às pessoas, ou, dito de outra maneira, mostrar que esse aparelho parece ter recursos e vontade próprios, capaz, assim, de interferir decisivamente sobre aqueles que diante dele se colocam.

(QUINO. Disponível em: https://www.portuguescompartilhadoblog.com.br/2016/10/analise-tirinha-mafalda-transitividade.html. Acesso em 30-12-2024).
A 1ª estrofe promove uma espécie de elogio a um quadro que, antes do advento da internet, exercia grande curiosidade sobre os telespectadores: a previsão do tempo. De modo que o “boletim meteorológico” sempre aguardado operava, para além da praticidade, a façanha de saber do tempo “aqui e agora”, se nos próximos dias “chove ou se faz sol” – um surpreendente avanço. Essas questões, tão comuns para nós atualmente, não exigiriam maior previdência interpretativa se não fosse o verso final do referido quarteto: “Para que ir lá fora?”. Pois é aqui que a poesia supera qualquer possibilidade do senso comum para questionar sutilmente a atitude de isolamento que a televisão produz nos consumidores de produtos forjados pela indústria dos veículos de comunicação de massa.
A instância seguinte trata de outra imagem recorrentemente empregada pela TV – as comidas, das quais podemos nos servir apenas “com os olhos”. Neste ponto, embora se reconheça uma certa “limitação” do aparelho em relação a nossos desejos e saciedades, também se mostra que não é preciso que ela seja mais do que isso, posto já ser suficiente o poder de amputar em nós a intrínseca condição humana que impele a “ir lá fora” ou de nos impor balizas na forma de habilidades subjugadas pelo que não é – falsas imagens que, aos poucos, promovem a abdicação de ser: “Aposentei os dentes”.
Neste ponto, faz-se necessário esclarecer que o texto incita-nos a uma indispensável reflexão: a criação do entretenimento como parte não apenas primordial à vida, mas, paradoxalmente, ferramenta alienante da cultura de massa, questão cara aos teóricos da Escola de Frankfurt que advertiram sobre o perigo da padronização da arte e a alienação da nossa capacidade de nos mantermos livres, autônomos e não manipulados.
A estrofe 3 alude ao produto possivelmente mais consumido da chamada “telinha”: referido como “dramalhões”, a própria escolha da palavra está investida de crítica à pobreza do conteúdo substituído pelos excessos de ação e sentimentalismo que tanto agradam ao público. É muito oportuno observar que, no verso inicial dessa quadra, o eu lírico coloca a TV como o sujeito da encenação (“que encenas”), e não como veículo por meio do qual o “fingimento” chega até nós com “tamanho poder de vida” – tão bem fabricado que a tessitura das obras produz a ilusão de fazer pensar que é a própria realidade. Assim, acometido pela verossimilhança dirigida aos desejos do inconsciente coletivo, a legitimidade do humano sucumbe ao artefato: “nem me canso em viver”.
A estrofe final abre-se com uma pequena enumeração (“Guerra, sexo, esporte”) arrematada pela confissão definitiva: “me dás tudo, tudo”. A repetição do pronome indefinido assegura a convicção da voz poemática diante daquilo que a televisão oferece – é como se nada mais faltasse para confirmar uma nova existência: do nada que restou de autêntico, ergue-se artificial criatura constituída de recortes que não passam de pedaços de artigos, mercadoria sem originalidade, “consciência” desprovida de toda capacidade de pensar – eis que o homem tornou-se objeto, irremediavelmente.
Antes de dar por terminada a tarefa de análise, é oportuno chamar a atenção para um aspecto bastante singular do texto. Se levarmos em consideração o último verso de cada estrofe,
“Para que ir lá fora?”,
“Aposentei os dentes”,
“nem me canso em viver”,
e “já não preciso do mundo”,
constatamos a presença da gradação cuja finalidade é demonstrar como, pouco a pouco, a televisão vai destituindo o espectador de seu natural estatuto até que se complete integralmente o percurso da alienação – ponto alto (e lastimável) dessa transformação em ser-objeto.
E é exatamente em cada um desses versos que se consuma a ironia do enunciador numa crítica que, pelas vias da sátira, destila seu riso triste sobre o trágico abatimento das nossas potencialidades humanas aterradas, cada vez mais desprovidas de referências da realidade.

(QUINO. Disponível em: https://www.ifes.edu.br/images/stories/files/estude_aqui/_2019/2019-01/audiodescricao-concomitante-integrado.pdf. Acesso em 30-12-2024).
Após breve análise, atentemos para o fato de que todo esse processo não é imotivado. Na verdade, ganham com isso grandes empresas que produzem mercadorias culturais alijadas de refinamento e de provocação ao senso crítico. Sob pretexto de popularização, o que se vê é uma potente engrenagem comercial que alimenta o consumo e gera alienação. Então, enquanto estamos nos entretendo, descuidamos de nós mesmos. Neste ponto, parece-me oportuno encerrar com as palavras do grande poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade, que, em “Eu etiqueta” (In.: Corpo, 1984), expressa com justeza a perigosa exposição a que estamos sujeitos, arriscando a nossa legitimidade de seres pensantes:
“Eu que antes era e me sabia
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,
Ser pensante sentinte e solitário
Com outros seres diversos e conscientes
De sua humana, invencível condição”…
A tempo, cumpre esclarecer que não apenas a televisão desempenha essa perniciosa ação de derrogar o pensamento, aniquilar o senso crítico e transfigurar a espécie; também o cinema, o teatro, a dança, a música e os esportes, por exemplo, fazem parte dessa máquina poderosa que, se intencionalmente operada para fins ilegítimos, altera nossas consciências e esteriliza a liberdade, o progresso, a justiça e a igualdade. Como objetos desprovidos de sentimentos, apenas existimos aprisionados pela ignorância sobretudo de nós mesmos.